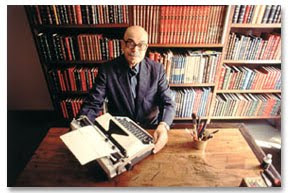DIAS IDOS E NÃO VIVIDOS
Gilvan Lemos
A estrada de rodagem findava no silêncio. Estreita na terra pura, nua, ao chegar à curva parecia que o mato a havia engolido. Nas partes fofas, de areia, as marcas dos pneus do caminhão do leite; nas duras, onde sempre entremostrava-se um lombo cinzento de pedra, a solidão faiscante do sol, a presença firme do sol, a expectativa de uma coisa que indistintamente ia acontecer e que nunca acontecia.
O zumbido da desnatadeira manual, a força humana regrada pelo ritmo impositivo da máquina, a fadiga dum braço transmitida ao outro, a conformação refletida no olhar esmorecido, a contabilidade mental do volume de leite a ser desnatado ainda.
— Eu tinha uns quinze anos, mais ou menos.
Espaçadamente, os fornecedores diários. Modestos, pequenos produtores. E o leite. Em latas na cabeça, em alimárias, parte da carga contrapesada com mochilas de milho, feijão, pedra, mamona. Murmúrios de vozes mal acordadas, zurrar metódico de jumentos, passadas breves, ruído de uma folha de papel sendo rasgada. E a lamúria dos porcos grunhindo no chiqueiro.
— Era uma fábrica de laticínios, era?
— Entreposto. Desnatava-se parte do leite, era eu quem desnatava. À tarde o caminhão do leite vinha apanhar.
O homem. Agreste, robusto, a barba sempre por fazer. A camisa, por dentro das calças, entreabertas na prega do último botão, o umbigo rodeado de pêlos negros. No chão engordurado seus tamancos não retiniam, sim em casa, onde o piso de tijolos era varrido diariamente. A mulher recomendava: Calce os chinelos. Fumava grosso cigarro, de fumo por ele mesmo picado. Na extremidade, a que levava à boca, a mancha amarelada da saliva. À noite, na espreguiçadeira, de frente para a escuridão, falava sozinho. Se a mulher indagava, ele: Eu não disse nada. Daí então calava-se de fato, os lábios remexendo, sôfregos, como se ele blasfemasse interiormente.
Correria de ratos na sala da frente, a da recepção do leite, local da desnatadeira. Esta, a (minha) inimiga. Cães a latir de incompreensão e espanto. Seriam os espectros noturnos, o rangido dos galhos soprados pelo vento a causa dos seus desvelos. Na manga iridescente do candeeiro, mariposas cediam à tentação do holocausto. A aranha, em sombra refletida na parede, aumentada mil vezes, movia-se, dissimulando a concupiscência logo incitada. E os porcos não grunhiam no chiqueiro.
O homem deixava a cadeira, junto com a baba escura cuspia a ponta do cigarro. Boca escancarada, bocejos longos e repetidos. Dava dois passos. Cambaleando, espreguiçando-se furiosamente, encaminhava-se para o terreiro. O espaço desocupado adquiria-lhe a personalidade e, impositivo, recalcitrante, esperava-lhe o retorno, a resguardar-lhe a posição de mando. Lá fora os cães se acalmavam. O cavalo, olhos brilhantes como de labaredas, sacudia a cabeça, a tábua do pescoço retesada, as crinas empoeiradas de mistério. Eh-eh, fazia o homem, num acento inusitado de ternura. E, mãos nos quadris, a cabeça erguida para a negridão do céu, urinava no tronco do marmeleiro.
Portas batidas, janelas entrameladas. A espreguiçadeira, reposta no lugar de costume, resignava-se à própria imparcialidade. Os tamancos do homem conduziam-no à ausência. Sinais íntimos, últimos ruídos preparando-se para serem extintos pelo sono. Dele, porque para os outros (para mim) a noite se eternizava na insônia. Restavam na sala fulgores auditivos de um passado recente. Luzes e brilhos ouvidos mais do que vistos. Ouvidos pelo coração. Em transe o coração. A voz duma menina que lhe segura as (minhas) mãos: Não vá não, besta. Você vai se enterrar ali. E outra mulher, como esta agora remendando velhas camisas e calças desbotadas: É preciso, filho, será um ajuda para nós. Seu pai... Este a interrompia: Com onze anos saí de casa para ganhar a vida.
Vida, vida! A que estava vivendo, a que deixara para trás, a que se enfumava na lembrança, a que ingenuamente lhe aprazia e lhe faltava. Claros dessa outra vida, sonhos sonhados na vigília. E aquela estrela, mais do todas brilhante, a iludi-lo com o esplendor dum êxito indefinido.
Da camarinha, ressonos altos, roncos cavernosos. O homem penetrava-se em si mesmo, com o mesmo poderio pertencendo-se, com a mesma força mantendo o respeito intransferido. Na sala, a mulher, sem pressa de terminar os seus remendos, torcia a agulha escapa da agulha, tornava a enfiá-la no buraco: Não vai dormir? A ele (a mim) perguntava, e desfazia-lhe o procurado encanto. Porque, embora a semelhança física, sua voz diferençava da da outra e, sem ser áspera ou ofensiva, faltava a ela um toque inexplicável de meiguice, aquele que só se encontra na voz das mães que estão distantes.
Pelas frestas dos olhos umedecidos não mais a sombra da aranha na parede, não mais o recurso de acompanhar o vôo suicida das mariposas. E os ratos do depósito tinham sossegado.
— Quem eram eles? O homem do entreposto e a mulher, quem eram eles?
— Ela, irmã de minha mãe; ele, naturalmente, seu marido. E meu patrão.
As mãos tornadas insensíveis pelos calos, o enfado que não se acomodava ao remanso, o sono que não encontrava repouso. A voz da mulher, desta, a tia, ponteando-lhe as cordas da memória: Não teve mais notícia de sua mãe? O carinho, de que não tinha costume, empanado em promessas duvidosas: Sábado consigo que você vá à cidade. O olhar rápido, suspenso do alinhavo: Vai ver a feira, seus pais, seus irmãos. E num quase sorriso de cumplicidade: A namorada... Não tinha uma? E então?
Sábado ou domingo. Não havia parada. No peito da vaca o leite não podia esperar para ser tirado na segunda-feira; no entreposto não aguardaria sem mácula pela desnatação. Tampouco o caminhão deixaria de vir por um ou dois dias. Ele (eu) sabia disso, ela também. Os roncos inadvertidamente interrompiam-se na camarinha. E a voz do homem chegava suspicaz à mulher emaranhada em suas linhas: Não vem dormir hoje não? Era o sinal. O final. Do serão.
À tarde, o motorista do caminhão do leite trouxera-lhe um recado: Seu pai mandou dizer que é pra você ir sem falta, sua mãe está muito mal. O olhar enviesado do patrão, falanges cabeludas rasgando o papel da nota de remessa. A tia, em sombra furtiva transmudada, passando ligeiramente da porta dos fundos à varanda. No espaço, o tempo parado. Tudo parado. O motorista, com a última sílaba da última palavra do recado suspensa na boca aberta; o patrão segurando a nota que não se despregara de todo e que não se largava do bloco porque ele não acabava de puxá-la; a tia, de perfil, um pé erguido, sem dar a passada final que a conduziria à varanda. E os porcos grunhindo no chiqueiro.
Posso esperar no máximo dez minutos, completara o motorista. Não mais os porcos, só o zumbido da desnatadeira. Deixada de lado, ainda lhe transmitia o parco movimento. Dos músculos dele (de mim) inda exigia a força da vibração. E nos ouvidos fixava-se, monótona-eterna-calculadamente: a rígida marcação, o compasso opressivo da incerteza.
Eis a roupa especial colocada sobre a cama. Junto, os sapatos de irem à cidade e para esse fim jamais utilizados, e mais a pressa de revestir o corpo sujo de suor, calças os pés tanto tempo desacostumados de semelhante ostentação. Súbito, o patrão encostado no portal: Só depois de lavar o vasilhame. Por trás dele a mulher, a tia: Assim não vai dar tempo de pegar o caminhão. Silêncio intencional, o homem: Vai depois, a pé, o cavalo está doente. A outra voz, perdendo suavidades: Mas é tão longe! É a mãe dele, não compreende? E a ordem definitiva: Tanto faz.
Da janela, a mulher em vigilância. Era o marido que ela acompanhava com a vista. Ele, que tratava do cavalo e que, após, o conduziria ao pasto. Foi nessa ocasião que ela procurou o sobrinho. Levara-lhe a muda da roupa e os sapatos havia pouco abandonados: Troque-se aí mesmo, apresse-se que talvez ainda possa pegar o caminhão. Cortando em direção ao rio você o alcançará quando ele vier de volta. E o vasilhame? Ela mesma lavava. Ao partir, cabisbaixo, apenas ouviu — não precisava voltar-se para saber que a tia estava com os olhos pisados: Vá com Deus, meu filho. Só volte aqui quando quiser. E se quiser.
No ponto indicado, as marcas dos pneus na areia solta não pareciam recentes. Tão cansado se mostrava, não tempo de regozijar-se. A estrada triste era igual à que se avistava do entreposto nas tardes de longa aflição sem recompensa. O sol já não queimava, os pássaros escondiam-se no silêncio, o vento embalava a solidão presente fora e dentro dele (de mim).
Mesa posta, a família toda reunida. Os irmãos casados sem as esposas, as irmãs sem os maridos. Na cabeceira o pai, a calva esbranquiçada, a espera contrita. A luz fraca pendente do fio encaroçado de moscas, o relógio da parede batendo as horas, inatendido e solitário em sua marcha laboriosa, de roteiro jamais-em-tempo-algum alterado. Ninguém demonstrava dar por ele, por ele ou pelo relógio, o que não era de estranhar: seus lugares, respectivos, viviam sem novidades ocupados. Os cheiros, os ruídos de costume vindos da cozinha; os vários olhares de olhos injetados, as bocas salivantes. E um coro de avidez rumorejando nos lábios tensos, retorcidos. Foi quando a mãe surgiu da porta estreita, só ela alegre, só ela notando sua presença: Chegou enfim! Bem na hora. Vamos comer, meu filho. Mas em vez disso ela o abraçava chorando.
— Como? Então tinha ficado boa?
— Sonhei. Enquanto aguardava o caminhão, adormeci sentado numa pedra, a cabeça encostada no tronco duma árvore. Me lembro que quando acordei estava com o rosto lavado das lágrimas do sonho. O fato é que, ao chegar à cidade, ela já havia morrido.
Olhara-a rapidamente, apenas para certificar-se de que não era a mesma. Nos traços da do entreposto havia deixado a fisionomia, os gestos, a ternura calma, conforme vinha há tempo recompondo e comparando. A semelhança era tanta! Não no timbre da voz. Mas a daqui já não falava. As condolências, os reconfortos. Não queria que a ninguém pertencesse a dor de tê-la perdido, sua dor, íntima-úmida-dor. Por outro lado, a ninguém queria mais pertencer. E não se pertencia. De fora, ausentando-se, não se julgava de casa. Desta. A casa onde morre uma pessoa querida não é mais a nossa casa. Petrificava-se, pretendia ser único, ímpar no mundo. Mas quando o pai lhe disse: Ela ontem chamou tanto por você... — sucumbiu, entregou-se, o filho, também do pai, retornado. E quando o parente idoso, homem de prestígio, tentou acalmá-lo (Conforme-se, menino, foi um descanso pra ela.), agrediu-o, batendo-lhe no rosto, forte, desatinado.
— Foi o maior escândalo.
— Voltou, depois, pra trabalhar no entreposto?
— Não. Acalmados os ânimos, esse parente idoso, através do seu prestígio, conseguiu um emprego pra mim na prefeitura. Era um homem bom, me compreendeu.
Texto extraído do livro "A Inocente Farsa Da Vingança", Ed. Estação Liberdade — São Paulo — Maio, 1991.
PROJETO RELEITURA